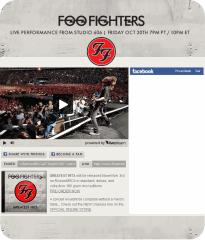Por Ricardo Pierre
…é a morte, não acha? E nesse dia 13 de janeiro de 2010 foi Jay Reatard quem bateu as botas. Tinha 29 anos de idade e morreu misteriosamente. Acha Jack White prolífico? Pois Jimmy Lee Lindsay Jr, um nerd de cabelos longos nascido no Missouri e criado em Memphis, no Tennessee, aquela eternizada por Chuck Berry e terra natal do Elvis, gravou mais de 50 registros, incluindo álbuns completos, Eps e um monte de outros formatos. Tudo isso em pouco mais de uma década de carreira, por várias bandas diferentes e em sua carreira solo.
A costumeira baba-ovice póstuma comeu solta. Gerard Cosloy, da Matador Records, gravadora sonho de carreira de milhares de bandas indie, disse que o mundo perdeu “um fantástico performer e compositor e um insaciável amante da música”. Beck, Pixies, Sonic Youth e Ted Leo & The Pharmacists, todos eles expressaram seus pêsames. Sua história, passado e trabalho passaram a ser vistos com muito mais atenção. Não tardará para que sua obra se torne cult. Alguém tem dúvidas de que seus discos serão extraordinariamente mais vendidos (ou baixados) depois dele ter morrido?
O Punk Rock era a saída, o Punk Rock era liberdade. O jovem Lindsay se inspirou no Rocket from the Crypt, após assistir um show deles no meio da década de 90. Dali em diante, o pirralho de 15 anos nunca parou. Fiel ao espírito “faz você mesmo”, formou o Reatards, que no início era ele tocando baixo, guitarra, gritando e batucando num balde. O primeiro disco do grupo, Teenage Hate, de 1999, parecia alguma fita de uma banda obscura engavetada nos escritórios da SST Records por 20 anos. Gravação podre, tosca, abafada, sem preocupação com afinação, técnica nem porra nenhuma. Performance, angústia adolescente, gritaria e deboche. No meio disso, algumas grandes melodias. Punk no verdadeiro sentido da palavra. Defeituoso, repugnante. E não há como não gostar disso.
Nem ele sabia quantos singles havia gravado. Discos mesmo foram 22, muito deles fora de catálogo. Na maioria das vezes, cheios desse espírito urgente, maluco. O tempo passa rápido. Podia ser com o The Reatards, Lost Sounds, Destruction Unit e todas as não-sei-quantas-mais bandas que ele participava. Sua música deveria ser ouvida o mais rápido possível. E foi assim durante toda sua carreira. Como consequência, sua obra está espalhada por aí, e não há como fazer um panorama realmente amplo dela. Talvez eu nunca consiga ouvir todos seus discos, nem se tentar baixar ou roubar. Tudo o que sabemos é que ele acertou a mão com o Reatards e em sua carreira solo.
Falando dela, seu derradeiro registro, Watch me Fall, de 2009, mantinha a mesma urgência dos Reatards, mas não o mesmo desleixo. Muito mais limpo, arrumadinho. Blood Visions, de 2006, foi o elo entre o passado ruidoso, das músicas que não passavam de dois minutos e o, digamos, refinamento de Watch me Fall. A vida adulta havia chegado e sua música agora estava mais mansa, com um brutal apelo pop. Músicas como “Man of Steel”, de Watch… cujo refrão dizia “eu quebrei sua gaiola/você correrá livremente”, ou “I See You Standing There”, de Blood... para ficar em exemplos óbvios de sua carreira solo, são a mistura perfeita entre o barulho garageiro e a veia pop grudenta.
Mas engana-se quem pensa que Jay manteve somente essa linha sonora. Com os Lost Sounds, misturou vocais femininos, sintetizadores e um approach punk ainda mais retrô do que o habitual. O resultado foi igualmente satisfatório. Memphis is Dead, de 2001, é uma porrada, e passeia por caminhos mais densos do que o de costume, ainda que a onipresente energia punk dê as caras por lá, também.
Numa entrevista recente, Jay disse: “Tudo que faço é motivado pelo medo de que meu tempo esteja se esgotando”. Ele tinha certeza de que o tempo passaria bem rápido. Agora, colherá os louros da carreira que todo e qualquer músico sonha alucinadamente, por mais que se esconda sob a pecha de integridade underground. De agora em diante será tratado como gênio. Ou não. Não caiu nas graças dos blasé. Tinha cabelo comprido e tocava uma Flying V. Um rocker em sua pura essência. Agora ele está morto. Não seria bom, no entanto, que ele vivesse mais do que isso. O Rock and Roll precisa de mártires.
Quer saber quais os discos que ele gravou? Dá um liga.
Filed under: Sons | 2 Comments
Por Ricardo Pierre
Eu tenho sérios problemas com a falta de assunto, falta de repertório para conversas, cartas, seções de hipnose reveladoras… Não tenho histórias pessoais que sejam lá interessantes nem comoventes. Extraordinariamente ordinário, uma pessoa dentro desse inconveniente padrão, da média. Média, média, palavra detestada por quem quer se destacar de alguma forma… Merda. Então, faço parte desse filão do mercado, de pessoas sem graça, insípidas e desinteressadas. Segmento esse que sustentou, ou melhor, fez do Rock and Roll o que ele é hoje. Ou você acha os Beatles seriam o que seriam sem a multidão de garotas loucas e burras que tinham orgasmos só de pensar em Paul McCartney cantando “Till There Was You”? Claro, o underground e seus fazedores, sujeitos determinados e os escambals surgiram instantaneamente à explosão roqueira, mas isso é tema para um outro texto.
Voltemos aos médios. Na década de 90, o advento do Grunge e do Nirvana fez muitos fãs das FM’s em todo o mundo cortarem seus mullets, aposentarem suas roupas coloridas com ombreiras e trocarem suas coletâneas de sucessos da década anterior e fitas do Duran Duran e Poison por compilações desse novo rock de Seattle. No Brasil, a mudança fica explícita na diferença entre os line-ups de 1992 e 1993 do Hollywood Rock, o festival da marca de cigarro que complementava, digamos assim, o Rock and Rio. Pois bem: se em 1992 nomes como o Skid Row, Extreme, Seal e Jesus Jones se apresentaram por essas redondezas, 1993 foi testemunha de shows de L7, Red Hot Chilli Peppers, Alice in Chains (o Simply Red também fez parte dessa escalação) e das históricas e desastrosas apresentações do Nirvana. O mercado havia mudado, e dessa vez o Brasil não demorou vinte anos para para entrar nessa rota.
Essa reviravolta causada pelos grupos de Seattle fez com que inúmeras bandas que faziam parte de um circuito alternativo nos anos 80 ganhassem exposição inimaginável. Sonic Youth, R.E.M., Dinosaur Jr., Bob Mould e o Sugar, Butthole Surfers, The Jesus Lizard, Redd Kross, Meat Puppets e outros grandes nomes tornaram-se parte da programação da MTV e das rádios, e ficaram conhecidos, mesmo que por uma ou duas músicas, entre o tal público médio, algo que eles não tinham conseguido durante toda aquela década. É claro que Pixies, Jane’s Addiction e o Faith no More pavimentaram o caminho para a revolução na indústria fonográfica no início dos 90, mas essas outras bandas estavam no limbo (muito populares para o underground, pouco conhecidos para o grande público) até o lançamento de “Nevermind”. Eles logo ganhariam a companhia de jovens bandas de outras regiões dos States que misturavam atitude desencanada, hard rock setentista e punk rock e, na maioria das vezes, muitas drogas à sua música. Smashing Pumpkins, L7, Babes in Toyland, Candlebox e Hole são alguns dos nomes que pegaram carona na popularização do Grunge.
No entanto, a credibilidade dessas bandas e até de outras bandas de Seattle surgidas depois era questionada por músicos das bandas “originais de fábrica”. O Alice in Chains era chamado de Kindergarten (Jardim de Infância) por diversos músicos e jornalistas da cena de Seattle, devido sua suposta semelhança com o Soundgarden e pelo fato de terem começado como uma banda de Hair Metal e gradualmente incorporarem elementos visuais e sonoros que “escureceram” sua música. Essa esculhambação atingiu diretamente o Pearl Jam, também. A trupe de Eddie Vedder foi comparada ao Poison por Kurt Cobain. O Smashing Pumpkins foi chamado de “os Monkees do Grunge” por Bob Mould, e colecionava detratores ilustres, como Steve Albini. Nenhuma delas, porém, foi tão pisoteada quanto os californianos do Stone Temple Pilots.
Pra entender mais essa história, vamos à chatice burocrática: Scott Weiland e Robert DeLeo, vocalista e baixista respectivamente, se conheceram num show do Black Flag, em 1987 e pouco tempo depois já estariam tocando juntos. Não muito após a formação do conjunto, o baterista Eric Kretz e o guitarrista e irmão mais velho de Robert, Dean, se juntam a banda, que se chamava Mighty Joe Young. Gravaram uma demo usando esse nome em 1990. Pouco antes do lançamento de seu debut, um bluesman homônimo e octagenário contata os agentes da banda, reclamando, com todo o direito, seu nome. A alcunha de Stone Temple Pilots foi feita pra se encaixar na sigla da companhia de óleos de motor STP, e venceu outros nomes como Stinky Toilet’s Papers e Shirley Temple’s Pussy… Bom, o primeiro álbum estava pronto e foi lançado no dia 29 de setembro de 1992. É incrível, mas Core e Dirt, obra prima do Alice in Chains, foram lançados no mesmo dia.
Não tardou pra que a banda fosse chamada de oportunista por todo mundo. Core foi considerado um assalto à mão armada às bandas de Seattle. Comparações com o Pearl Jam e Alice in Chains acompanharam a banda durante todo seu período inicial. Kim Thayil dava entrevistas dizendo o quanto ele achava engraçado os Pilots copiarem desesperadamente o Soundgarden e asseclas. Críticos tacharam o disco como um híbrido barato do instrumental do Alice in Chains com a voz do Pearl Jam, e o megahit “Plush” corroborou com o discurso dos detratores. Ainda assim, Core é um dos melhores discos daquela época, e tudo caminha para que o disco seja um dos grandes do Rock. Havia consistência na banda e a performance dos músicos, que beberam da fonte de Led Zeppelin e Aerosmith é, na maioria das vezes, muito superior a das outras bandas dessa época. Isso atiçou sentimentos diferentes entre público e crítica e explicitou o abismo entre os “formadores” de opinião e o mercado consumidor de música. No início de 1994, na votação de melhores do ano da revista Rolling Stone, a banda foi simultaneamente escolhida como “Pior Banda Nova” para os críticos e “Melhor Banda Nova” para o público. Ganharam um Grammy por Plush em março desse mesmo ano, também. E Scott Weiland se transformou no maior junkie da década.
Ok, enciclopedismos terminados, vamos ao que interessa. Em junho de 1994 Kurt Cobain já tinha abotoado o paletó, “Black Hole Sun” era executada à exaustão e o Green Day era o novo fenômeno da música americana. E nesse mês, no dia 7, o segundo e definitivo álbum do Stone Temple Pilots foi lançado. É pra tanto? Sim, é.
Purple é um dos álbuns mais completos e diversificados dentre inúmeros outros da era Grunge. Há metal, há punk, há country e bossa-nova também. É pop, sujo, macio, maciço. Muito foda, sem sobra de dúvidas. No entanto, o lançamento de Superunknown, do Soundgarden, fez com que a crítica direcionasse toda rasgação de seda ao grupo de Thayil. Evidentemente, Superunknown é sensacional. Mas não há motivos para relegar Purple ao desprezo dos “entendidos” e novamente o público, bombardeado com as tendenciosas campanhas de marketing das gravadoras. Essas pobres pessoas não conseguem perceber a falcatrua por trás dessa banda inferior compraram o disco massivamente. Só na terra do Tio Sam esse disco vendeu 6 milhões de cópias. Graças a submissão do público, massa de manobra que não percebeu que a indústria sórdida manipulava seus gostos. E ainda bem que não percebeu.
A primeira canção do disco, “Meat Plow”, um hard rock estranho e cadenciado, abre o disco da melhor maneira possível, chutando pra longe o balde de comparações com o Pearl Jam. A voz de Weiland se distanciava do espectro Grunge e Dean DeLeo, grande guitarrista que é, manda seu primeiro solo do disco. Core tinha guitarras muito boas, mas apenas cinco solos em doze músicas. Purple tem solos na maioria das músicas. Nada auto-indulgente. Paul Leary, do Butthole Surfers também gravou solos viajandões em “Lounge Fly”. Na letra, a primeira evidência da dor de corno de Weiland: “Ela disse que seria minha mulher/Ela disse que seria meu homem”. Entre essas duas, o hit arrasa quarteirão, “Vasoline”. Hipnótica, vertiginosa, pesada, grudenta. Incrível.
Sinto um remorso muito grande de escolher algumas faixas para destacar, porque o disco é (eu odeio esse termo. Me soa muito mal) coeso. Coeso demais, entendem?? O tipo de disco que não adianta ouvir pulando músicas. Muito palatável aos ouvidos não treinados. “Interstate Love Song”, “Still Remains” e “Pretty Penny” formam a sequência mansa do disco. A primeira, inspirada pela obra de Tom Jobim e Burt Bacharach, já é um clássico, e passeia por um terreno impensável, tranquilo. Uma canção sobre um coração partido, na perspectiva de um chifrudo. Verdadeira música de corno. “Still Remains”, com letra mela cueca até dizer chega, confirma: estamos diante de um disco feito para as massas, para as arenas. Versos como “Tome um banho e eu vou beber a água que você deixou” foram facilmente digeridos pelos fãs e ainda mais facilmente detonados pela crítica. “Pretty Penny”, pérola acústica e idílica, fecha essa sequência, lembrando os momentos acústicos do terceiro disco do Zeppelin. O melhor é que o ponto alto do disco ainda está por vir.
“Silvergun Superman” merece um parágrafo todinho para si, que está ali embaixo. É uma espécie de cria perdida, esquecida até mesmo pelos fãs do STP. A coletânea Thank You, de 2003, vinha com um DVD que continha material fantástico ao vivo, além de todos os clipes da banda (quase: omitiram criminosamente a versão para “Revolution”, dos Beatles) e making of de algumas músicas também. As performances ao vivo iam desde o comecinho da banda, em 1991 até as derradeiras performances de 2002, quando Scott Weiland já não era nem o fiapo do que ele costumava ser (ele previu isso em “Creep” e acertou em cheio). Então, existem três vídeos de um show em Worcester, no Massachussets, em 1994. Uma performance boa para “Interstate Love Song”, incrível em “Army Ants” e perfeita em “Silvergun Superman”. E nessa performance, a constatação: essa música é maravilhosa.
O riff do verso, que acompanha o comecinho da letra – “Find you in the dark/Read you like a cheap surprise…” – me arrepia até hoje. O ectoplasma de Tony Iommi assombra essa música. Parece que Dean DeLeo ficou uma semana inteira escutando coisas como “Into the Void” e “Cornucopia” antes de gravar essa canção… O vocal de Weiland é sorumbático, grave, tenso, lembrando David Gahan em seus melhores momentos. O refrão, a entrega: “Você passou dos limites, eu sabia que eles eram meus…”. A traição, ou a própria consciência falando. A decepção. Separação entre corpo, alma, espírito, manja? Tá certo, nada a ver isso. Pois bem, não consigo decidir quais das duas versões é a melhor, mas esse texto é dedicado a Purple, então… A versão do disco também conta com um final bizarro, exigência de Kretz. Ao que consta, ele estava cansado de tentar finalizar a música e a achava um tanto cliché. Então, pediu para Dean que ele fodesse com o final da música, e foi prontamente atendido. Nas palavras do próprio guitarrista, a música parece que caiu da escada.
E pronto: “Big Empty”, trilha sonora do filme “O Corvo”, balada com slides sobre uma crise de comunicação num relacionamento amoroso, feita para cantar com o esqueiro erguido. Uma verdadeira power ballad. Melodia linda, terna, herdeira dos grandes arranjos do Aerosmith e do cancioneiro country americano. Covardia isso. Passamos, então dos três quartos do álbum. “Ah, a crítica deve ter se rendido”, você pensa. Não, não se rendeu. Logo começaram a azucrinar a banda, dizendo que expandiram seu repertório de plagiados. Aerosmith, Led Zeppelin, Beatles, Tom Jobim… E o disco nem acabou ainda. Chega ao fim em grande estilo, diga-se de passagem. “Unglued”, tremenda paulada, foi para “Purple” o que “Auf Wiedersehen” foi para Heaven Tonight, do Cheap Trick. Um rock direto, com guitarras magníficas ligadas no 220.
“Army Ants” é uma canção que data de 1977, da primeira banda de Dean DeLeo. Por ter sido composta naquele ano fatídico, a música é recheada de tendências punk misturadas ao tradicional hard rock dos anos 70. Pesada e com uma introdução que lembra música indiana, “Army Ants” foi a última porrada, o último momento pesado do álbum. O grand finale está perto, meus amigos.
Se o disco fosse conceitual, se chamaria “The Dark Side of the Horn”. O que a garota fez para Weiland ficar tão magoado, não sabemos. “Kitchenware & Candybars”, derradeira música, é aquela onde o cantor assume ter sido um pau mandado da mulher. “O que eu queria era o que nós queríamos e o que nós queríamos era o que ela queria”, dizia o refrão. Arrastada, a música que começa com um violão solitário explode perto do fim, externando todas as mágoas de um corno deprimido. Fenomenal. Com um tema desses e sem se tornar enfadonho, Purple convence por sua musicalidade incrível e interpretação. Mas não, o álbum ainda não terminou. Os caras colocaram um faixa escondida no fim de “Kitchenware…”, “Twelve Gracious Melodies”. Na verdade, a música foi gravada por Richard Petersson – um maluco que tinha obsessão por Johnny Mathis e que gravava seus discos com sua própria grana – e fecha a bolachinha da forma mais debochada possível, numa provável tiração de sarro com a crítica que tanto os condenou.
Brendan O’Brien, o mago que produziu todos os discos da banda, deve se orgulhar do que fez nesse disco. Curiosidade: depois de “Core”, O’Brien foi requisitado para produzir o segundo disco do… Pearl Jam. Cá entre nós, o trabalho dele em VS é maravilhoso também. Mas não chega ao nível alcançado aqui. Faz pouco tempo que o disco tem ganhado o devido respeito – à época de seu lançamento, Parklife, do Blur, The Red Album, do Weezer e os já citados Superunknown e Dookie foram uma boa desculpa para os críticos não levarem o novo disco do STP a sério. Mas antes de conseguir esses créditos, o grupo sofreu com comparações pejorativas com outras bandas, e até hoje algumas dessas ladainhas são reverberadas por aí. Em 1996, quando lançaram Tiny Music… Songs for The Vatican Gift Shop, um disco brutalmente diferente dos anteriores, foram acusados de plagiar descaradamente o Cheap Trick. “De Eddie Vedder para Robin Zander”, esse era o novo mote dos críticos.
Mesmo sendo ótimo, esse disco não foi tão bem sucedido quantos seus antecessores, muito pelo vício em heroína que levou Weiland à prisão em 1995. Graças a esse incidente, o vocalista foi condenado a passar um tempo em cana. Enquanto enjaulado, o resto da banda gravou um disco com Dave Coutts, do Ten Inch Men, atendendo por Talk Show. Livre, Scott Weiland deu sua resposta lançando 12 Bar Blues em 1998. Pela primeira vez um disco com o vocalista não foi malhado por meio mundo. Em 1999, enfim, a banda se reuniu para gravar um retorno triunfante. Nº 4, no entanto, foi classificado como um plágio… deles próprios. O peso de músicas como “Down” e a delicadeza de canções como “Glide” fizeram muitos acusá-los de se amparar em clichés de Core e Tiny Music…. O disco não é tão bom quanto os primeiros, mas deu fôlego para a banda e um irreconhecível Weiland excursionarem e gravarem um último álbum em 2001, Shangri-la Dee Da, bem melhor que seu antecessor, mas ainda longe dos discos dos primórdios.
A banda ainda rendeu uma turnê, mas se desintegrou em 2003, com Weiland indo para o Velvet Revolver, Eric Kretz formando os estúdios Bomb Shelter e os irmãos DeLeo fundando o Army of Anyone com Richard Patrick, do Filter. O Velvet Revolver e o Army of Anyone já acabaram, Weiland lançou seu segundo disco, “Happy” in Galoshes, e a tsunami dos revivals que trouxe vida nova a artistas tão díspares quanto o Carcass, Alice in Chains, The Black Crowes e Immortal também ressuscitou o STP, em 2008. Até novo disco estão gravando, mas sem o auxílio de Brendan O’Brien. Don Was, que produziu os Rolling Stones e o The Black Crowes, colabora com esses grandes músicos, e esse novo trabalho tem previsão de lançamento para 2010.
O mais impressionante é que quase dezoito anos depois, o STP ainda é olhado com asco por críticos que elegeram discos do Grizzly Bear e do Dirty Projectors como melhores de 2009. Purple é o maior exemplo de como essa indisposição da crítica, que se deu por uma espécie de ruminação coletiva de argumentos, deixou exclusivamente ao público a tarefa de apreciar um disco durante bom tempo. E o público cresceu, e muitos fãs viraram críticos, nesse ciclo bisonho. Em 2006, a revista Guitar Player elegeu o disco como um dos cem melhores álbuns orientados pela guitarra. Mas a crítica mainstream, aquela formada por totens de barro que não precisam saber nada de música para falar sobre, ainda insiste nessa birra. Azar deles. Vai lá, corre atrás desse disco. Lembre-se que Black Sabbath, Led Zeppelin, Radiohead e o próprio Nirvana foram tratados com desprezo por críticos que, mudando de opinião como quem muda de cueca, classificariam essas bandas como clássicas. Impressionante essa dupla personalidade, não? Lembra daquela historinha da roupa invisível do rei, que só os inteligentes podem ver? Certo, a crítica enxerga essa roupa magnífica até hoje.
Filed under: Sons, Uncategorized | 22 Comments
Etiquetas:Sons, Textos
Show do Foo Fighters no Facebook
Comandado por Dave Grohl (vocal e guitarra) Taylor Hawkins (bateria) Nate Mendel (baixo) e Chris Shiflett (guitarra), formam o Foo Fighters. No dia 30/10/2009, fizeram exclusivo no Facebook(Fundado por Mark Zuckerberg em 2004) via livestream, com mais ou menos 20 mil pessoas assitindo.
O show teve alguns problemas a transmisão travava, ficava só o audio, o som baixava e depois voltava ao volume normal, mas nada disso fez que os fã saisse a cada minuto mais pessoas entrava na sala, para assistir e comentarios que Grohl falou alguns, “Rolanaldo” foi um deles e também agradeceu os brasileiros, que estavam vendo “Thanks Brazil”, “Obrigado Brasil”, completa Dave, foi o auge da pessoas que acompanhava.
Sem data marcada aqui no Brasil o Foo Fighters, deixou a esperança no ar de poder ver de perto a performance do Ex. baterrista do Nirvana no show exclusivo, agora esperar para quem sabe em 2010 a apresentação deles.
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment